A sua TED Talk chama-se O que não sabemos sobre a confiança e teve quase 1,4 milhões de visitas desde Junho de 2013. A popularidade vem do tema, mas também do facto de a filósofa irlandesa Onora O’Neill desconstruir a maioria das ideias feitas que temos sobre confiança. A sua tese baseia-se na ideia de que mais importante do que falar de confiança é falarmos de confiabilidade, algo que implica a relação entre dois sujeitos. Ao perguntarmos se temos confiança em alguém, a pergunta central que se segue deve ser: para fazer o quê? “Posso confiar na professora do meu filho para o ensinar, mas não para guiar o autocarro da escola”, exemplifica. Nesta palestra, Onora O’Neill retoma algumas das ideias que desenvolveu nas Reith Lectures da BBC sobre o mesmo tema, A Question of Trust, em 2002.
Baronesa de Bengarve, presidente da Equality and Human Rights Commission (EHRC), um órgão parlamentar que tem como missão proteger os direitos humanos e monitorizar a discriminação no Reino Unido, Onara O’Neill tem feito várias intervenções públicas sobre a responsabilidade dos órgãos públicos. Directora do Newnham College, da Universidade de Cambridge, entre 1992 e 2006, e presidente da British Academy de 2005 a 2009, Onara O’Neill é autora de várias obras como Bounds of Justice (2000) — a mais recente é Rethinking Informed Consent in Bioethics (2007), com Neil Manson. A entrevista foi feita por telefone. Com disponibilidade total, Onora O’Neill respondeu a todas as perguntas.
Como define confiança?
O conceito fundamental não é confiança, mas confiabilidade. Acredito que temos um problema cultural em abordar a questão da confiabilidade. Isso parece-me um erro, porque a única confiança que vale a pena ter é a confiança bem depositada — e confiança bem depositada é confiança depositada numa pessoa ou instituição confiáveis. Por isso a confiabilidade é a categoria principal. Entre parêntesis: pode haver alguma dificuldade em traduzir “trustworthiness” ou “trustworthy” para línguas românicas — o mais importante é que se concentre na característica da pessoa, ou instituição, em quem é depositada confiança, em vez de se concentrar na atitude subjectiva da pessoa que responde a isso.
Basicamente, o meu pensamento é que precisamos de nos concentrar na questão da confiabilidade e menos na questão da confiança.
Porque pensa que essa “troca” acontece culturalmente?
Há certas áreas da vida em que a resposta à confiança ou falta de confiança é muito, muito importante. Duas áreas que podemos referir imediatamente são a política — em que a questão sobre se o eleitorado confia é determinante — e o marketing — em que a questão da reputação de um negócio é fulcral.
Estes dois domínios da vida mantêm a indústria das sondagens e de estudos de mercado muito ocupada. As pessoas perguntam se têm confiança em X ou Y. Mas seria muito mais útil saber quais são confiáveis e quais não são. Devo dizer que os resultados que se obtêm nas sondagens e estudos de mercado sobre atitudes generalistas não são fiáveis: flutuam e são muito sensíveis à forma como a questão é colocada, aquilo a que as pessoas na indústria das sondagens chamam “os efeitos de enquadramento”. Atitudes genéricas são apenas isso, genéricas.
Um dos aspectos que sublinha é que devemos concretizar a questão generalista de “confiar” em alguém e perguntar “para fazer o quê?” — dá o exemplo da pergunta “Confia no professor do seu filho?” à qual se deve responder “Para fazer o quê?”
De facto, se fazemos a pergunta de forma generalista, não vamos obter respostas fiáveis. Um dos aspectos divertidos das sondagens é que se se perguntar “Confia noutras pessoas’”, sem nada de específico, o resultado é que 50% dizem que sim — podemos ver o membro do público a quem isto foi perguntado a interrogar-se e a atirar uma moeda ao ar!
A pergunta “Para fazer o quê?” é muito reveladora. Costumo usar este exemplo: “Confia no professor do seu filho para o ensinar?” Provavelmente diz que sim. Mas se lhe perguntar: “Confia nele para guiar o autocarro da escola?”, possivelmente vai dizer que não. Diria que procuramos três coisas: uma é se a outra parte é competente, e, pegando no exemplo do professor, se é competente para ler e ensinar e não se é competente para guiar o autocarro; outra é que, em vários casos, estamos à procura também da honestidade. Queremos saber: “Tenho razão para pensar que esta pessoa ou instituição é honesta?” Quando se tem a questão mais afunilada para algo específico, pode-se começar a procurar provas e falta de provas. Uma terceira coisa que procuramos além da competência e da honestidade é se a pessoa é de fiar. Por exemplo, tenho um amigo que é do mais honesto possível, e muito competente em muitas coisas, mas é muito esquecido e não lhe pediria para colocar uma carta no correio, porque ele não é de fiar. Ser fidedigno não é secundário.
Nesse processo de generalização, o que acontece é que confundimos as nossas concepções sobre a importância da confiança, ou seja, não preciso de confiar no motorista como pessoa mas apenas como condutor?
É preciso um pouco mais, porque ele tem de ser um motorista competente, mas também saber fazer contas para dar bem os trocos aos clientes (risos). Mas, sim, a competência é muito mais importante nesse exemplo do que a honestidade. Todavia, há outras áreas da vida em que a honestidade é muito mais importante do que a competência.
De onde vem a importância que damos à confiança? Tem um fundo religioso?
Se quisermos uma explicação sobre como se desenvolveu, veio em parte de uma cultura religiosa, mas a resposta é mais prática — quando existem relações sociais que se baseiam na confiança, tudo é feito de forma muito mais rápida, porque não é preciso ir à procura de verificação, de documentação, de responsabilização em cada pequena transacção. Como dizem os economistas, os custos de transacção aumentam muito rapidamente quando não existe confiança.
Na cultura ocidental, e em particular desde a revolução das comunicações, temos muitos exemplos de comportamentos que não eram dignos de confiança e por isso introduziu-se mais regulação, mais prestação de contas e maior complexidade. Anos depois, percebeu-se que a regulação e a complexidade introduzidas tornaram muito mais difícil depositar a confiança de forma inteligente.
A dada altura, estive a fazer um inquérito nos serviços de maternidade na Inglaterra e no País de Gales. Entrevistei muitas parteiras e uma delas disse-me: “Sabe, leva mais tempo a preencher a papelada do que a fazer o parto.” Uso este exemplo muitas vezes, porque o que acontece é que de todas as vezes que ela estava a preencher a papelada não estava a cuidar da mulher ou do bebé. E este é um dos custos dos complexos sistemas de prestação de contas: dirigir mal as capacidades profissionais e desviar a pessoa do que está a fazer para o registo do que está a fazer.
Quando a cultura da prestação de contas está a operar em todo o seu esplendor, temos tendência a fazer do cumprimento a única virtude. Não vejo todos os sistemas de prestação de contas como maus. Por exemplo, qual de nós gostaria de permitir a publicação de contas que não foram auditadas? Mas introduzimos sistemas de verificação em áreas que estavam mais baseadas num serviço ético, como o trabalho social, as universidades, a educação. Por isso escrevi tanto sobre sistemas de prestação de contas.
Uma das suas observações é que temos muitos sistemas para prevenir o abuso de confiança que se tornaram gigantes e muito caros — como as passwords e os cadeados. O resultado é menos do que perfeito, diz. Como é que resolvemos o facto de a transparência e a abertura não serem suficientemente eficazes para monitorizar a confiança?
A transparência é útil para algumas coisas e não para tudo — e isso leva-nos para há 40 ou 50 anos e para a fundação da Transparency International [organização não-governamental que monitoriza a corrupção] e para o desenvolvimento da ideia de que a transparência é um meio efectivo de tornar as pessoas e instituições mais confiáveis.
O que a transparência significa é que a informação é colocada no domínio público, mas não necessariamente que a informação comunicada ao público seja a mais relevante. A transparência é muito diferente de comunicação. O que é preciso perguntar mais vezes é: “Precisamos de transparência ou de comunicação?” A comunicação é útil nas relações de confiança, a transparência é insuficiente. O facto de, por exemplo, o meu governo local fornecer mais informação sobre como recolhe o lixo não irá aumentar a minha confiança neles, mas, se aparecerem todas as semanas para recolher o lixo, isso é uma boa prova para eu confiar no funcionamento do sistema de recolha de lixo.
Diz que a prova de confiança ou falta de confiança é menos óbvia quando a opção de sair (ou de se desvincular) é difícil ou impossível — isso acontece na utilização de alguns serviços públicos que não podemos deixar de usar, como as conservatórias do registo civil. Que mecanismos usa a sociedade para lidar com esta questão?
A questão da opção de sair é interessante. O que está por detrás da noção da possibilidade de se desvincular é fazer algo que está dependente do consentimento — e da posterior resposta de sim ou não. Quero receber este anúncio ou não? Parece simples. Mas na verdade é enganador numa cultura em que há concepções radicalmente diferentes sobre o que é o consenso e em diferentes áreas da vida.
Por exemplo, na área da bioética as pessoas têm noções muito diferentes sobre o que é o consentimento. No comércio a noção de consentimento está vulgarizada: quando se faz o download de software e aparece uma caixa em que diz “Concordo com os termos e condições”, e nós clicamos e concordamos, apesar de não lermos esses termos e condições — se o fizéssemos, teríamos 49 páginas... Grande parte das transacções comerciais estão baseadas no consentimento, mas é apenas uma protecção legal das empresas, não serve para informar.
Por isso digo que é muito difícil, porque estamos a lidar com áreas da vida diferentes — era nisto que eu e Neil Manson pensávamos quando estávamos a escrever Rethinking Informed Consent in Bioethics (2007).
O que não pode nunca ser indissociável da confiança?
Depende do contexto. Se olharmos para relações pessoais, estamos constantemente a recolher determinado tipo de informação sobre as outras pessoas: são competentes, honestos ou desonestos? É por isso que é fácil depositar ou retirar confiança em contextos de contacto pessoal.
Mas a vida moderna não é apenas o contacto pessoal. Então, temos de aprender a fazê-lo noutros contextos. Às vezes as coisas complicam-se, sobretudo quando estamos a lidar com transacções complexas e altamente intermediadas, em que não conseguimos julgar por nós próprios. A banca é um bom exemplo — estávamos habituados a pensar que os bancos eram seguros, honestos e confiáveis, e ao longo destes oito anos sentimos as coisas de maneira diferente. A questão é: o que estamos a pensar fazer sobre a perda de confiança nos serviços financeiros — e foi uma retirada de confiança justa, eles perderam a nossa confiança porque não eram dignos de ser confiáveis? Temos imensas organizações a pensar em regulações para os bancos e nada resultou — precisamos de pensar mais na cultura da banca.
Quem é responsável por essa cultura?
Todos. Acho que provavelmente temos de voltar a pensar mais sobre as sanções culturais. As sanções regulatórias são óbvias — há multas, às vezes os casos vão a tribunal e as pessoas são desqualificadas, mas isto não resultou de todo. Tem havido multas enormes, mas no fim quem paga são os depositantes e os accionistas dos bancos.
Já não vivemos numa cultura da honra e da vergonha. Vemos ainda elementos disso em algumas profissões. Uma boa maneira de olhar para isto é tentar ver o que aconteceu à ética profissional nos últimos 30 anos. A resposta é que muitos dos poderes dos órgãos profissionais foram retirados e substituídos por poderes regulatórios. É verdade que algumas das profissões são corporativas, protegem os seus membros, em vez de os sancionar, mas seria mais inteligente fortalecer e não enfraquecer as culturas profissionais.
Como é que a sociedade melhoraria, se mudássemos a forma como depositamos ou retiramos a confiança?
Isso é uma questão interessante, porque provavelmente é sentida como uma questão ambígua. Quer dizer, as pessoas dizem: “Nunca mais confiarei nele ou nela.” Mas, na verdade, as nossas vidas estão tão interligadas que não é claro o que isso significa exactamente. Suspeito que as pessoas dizem que não confiam num determinado tipo de loja, por exemplo, mas continuam a comprar naquela loja, continuam a usar aquele serviço. Não é totalmente claro quando as pessoas dizem que perderam a confiança — fecho a minha conta no banco, não compro naquela loja, não ando naquele autocarro, tudo isto são coisas difíceis de fazer.
Como sociedade não podemos funcionar sem confiança.
Não, não podemos. A cultura da regulamentação não terá sido criada para substituir a confiança, mas sim para a sustentar de forma a que, introduzindo mais regulação, fosse mais fácil às pessoas depositar ou retirar confiança no serviço ou pessoa. Mas, na prática, ao introduzir muita regulação, estamos a fazer com que seja difícil as pessoas julgarem as instituições ou os profissionais.
Nas sociedades em que as condições políticas para a confiança no sistema não existem — como as ditaduras —, como é que as pessoas podem criar confiança?
Geoffrey Alan Hosking fala justamente disso — é um historiador especialista na União Soviética que se interessou pela questão da confiança. [O que ele refere é que], quando se trata de confiar no regime, a confiança não existe. Mas, por outro lado, uma das consequências é que há uma grande dose de confiança nas redes informais — por isso, se se tornar impossível as pessoas confiarem em determinadas instituições, elas podem criar outras instituições em que há relações de confiança. A resposta será que as pessoas confiam nos amigos, na sua igreja, na sua tribo, mas não confiam nas dos outros. Acho que não podemos funcionar sem confiança, mas a confiança pode ser excluída da vida pública por ditaduras ou pelo acaso ou por uma muito bem-intencionada hiper-regulação.
Como descreveria uma sociedade em que a confiança está nos níveis mais altos?
As sociedades altamente confiáveis não são necessariamente aquelas onde se quer muito viver — é provavelmente o caso de vilas pequenas onde toda a gente se conhece e há sempre alguém que sabe os segredos de toda a gente. Tendem a ser sociedades com níveis de confiança muito elevados, porque as pessoas sentem que têm a informação para julgar os outros.
Mencionou julgamento e confiança: o que vem primeiro?
É uma das situações que se vai criando gradualmente — a outra pessoa comporta-se de forma que é confiável e eu espero isso dela. Peguemos no exemplo de atravessar a estrada. Não preciso de conhecer os condutores, mas preciso de conhecer a cultura de condução do lugar onde tento atravessar a estrada: os condutores respeitam os sinais vermelhos, respeitam as passadeiras, tendem a andar depressa? Quando estas coisas são claras, as pessoas confiam mais e os transeuntes estão mais seguros.
Numa conferência em 2002 disse que as novas tecnologias que servem para espalhar mais informação podem ser usadas de forma antidemocrática e contaminar a nossa capacidade de julgar onde depositar confiança. Como devemos escolher onde depositar confiança?
A situação continua confusa, mas muita coisa mudou. A grande mudança é a enorme propagação do acesso a tecnologias de informação e a propagação dos media sociais. Penso que agora assistimos a dois debates que não são suficientemente separados um do outro. Um é sobre a privacidade online — as pessoas preocupam-se sobre quão privada é a informação; num número considerável de países europeus as pessoas preocupam-se ainda com o Estado — será que os serviços secretos estão a ver os meus emails? Não estou à espera que tenham tempo para ler os meus emails, mas sei que têm de seguir um processo explícito em que olham para os emails das pessoas em processos de terrorismo ou de inquérito policial.
Ao mesmo tempo, as pessoas são extremamente descuidadas em relação ao facto de os servidores de Internet lerem os nossos emails — e sabemos que os nossos dados são recolhidos, vendidos e que as técnicas de ligação de dados dão imenso poder.
Há um segundo debate que é sobre o anonimato online. Pode ser algo trivial, mas a verdade é que há muita gente que quer experimentar ser uma persona online — algumas pessoas fazem-no por motivos de auto-expressão, outros com uma intenção criminosa. Tenho grandes reservas sobre o anonimato online, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão — se se está escondido, cria-se uma relação assimétrica com a outra pessoa. Isto coloca questões muito diferentes das da privacidade e vai ser a grande questão do futuro.
Diz que uma crise da confiança, como é apregoada por muitos, não pode ser resolvida com depositar mais confiança às cegas. O nosso objectivo é depositar melhor a confiança. Como é que se faz isso de forma sensata?
Para depositar confiança de forma sensata, temos de usar standards adequados e não paranóicos em relação às pessoas: são de confiança ou competentes para o assunto específico sobre o qual temos de decidir se vamos depositar ou retirar a confiança? A forma como interagimos com os outros é específica e contextual, por isso a minha confiança na mulher que gere a loja da esquina ou no meu colega são coisas diferentes, mas cada uma é específica. É interessante perceber o que fazemos quando a confiança é quebrada, e, claro, isso é muito mais duro em relações íntimas quando tínhamos, mais ou menos, confiança incondicional. Um caso que acho interessante é o dos pais que têm filhos viciados em droga — leio várias vezes entrevistas em que confessam que têm de continuar a confiar nos filhos, apesar de ele/ela os ter desiludido tantas vezes. É um comentário interessante: por um lado, estão a dizer que não é sensato confiar nele, por outro, que têm de apostar nele, porque mais ninguém o vai fazer.
Às vezes dizemos, sem conhecer a pessoa: “Confio nela ou nele e não sei porquê.” O senso comum diz que se trata de intuição. Isso faz sentido? A confiança tem uma dose de intuição?
Temos de fazer isso, porque não podemos perder muito tempo a recolher provas sobre a confiança. Sabemos que este sentimento de que alguém é confiável não é infalível. Há o exemplo do vigarista que conquista a confiança e depois a trai. Mas é um absurdo pedir infalibilidade neste domínio, temos de fazer muitos julgamentos e temos de os fazer depressa e com base nas provas que temos. Não pode ser errado dizer: “Vou confiar nele/nela, não porque tenho provas, mas porque vou confiar.” Nesse sentido temos de ir além das provas. A minha posição é a de que a nossa resposta automática é, por regra, confiar, e sinto pena de quem tem como resposta automática a desconfiança. Mas se usarmos a resposta automática e depois formos desiludidos, então começamos a ser mais cautelosos.
Como é que se começou a interessar pelo tema da confiança?
Não estava interessada na confiança em especial, mas no ano em que fiz as conferências Reith da BBC (2002) estava a conversar com um amigo, que era director da Universidade de Edimburgo, que me falou de bioética — eu escrevi um livro que se chama Autonomy and Trust in Bioethics (2002). Era importante que, ao falar de ética médica, ficássemos centrados na questão da autonomia e não da confiança, por isso decidi juntar os dois. Porquê autonomia? Durante muitos anos trabalhei sobre a filosofia de Kant. Não fui a primeira a descobrir isto, mas as concepções contemporâneas de autonomia são muito diferentes das de Kant. Isso foi a sequência. A concepção contemporânea de autonomia individual pode ser muito confusa, mas é uma concepção individualista, enquanto se pensar na confiança é algo relacional.
Uma das razões por que penso que a confiabilidade e a nossa resposta à confiabilidade é muito importante é por ser relacional: não se pode pensar numa relação sem pensar em dois lados — por isso quero pensar na confiabilidade antes de pensar na confiança.



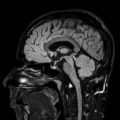























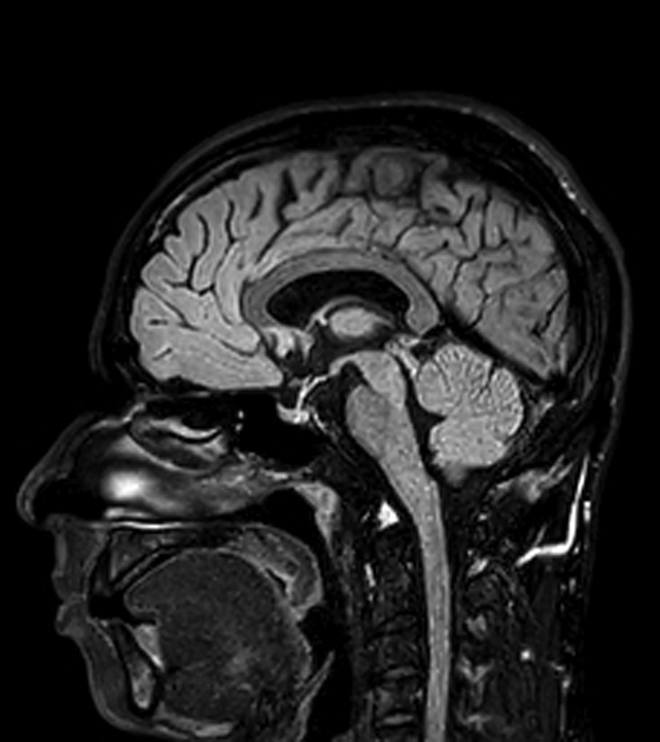










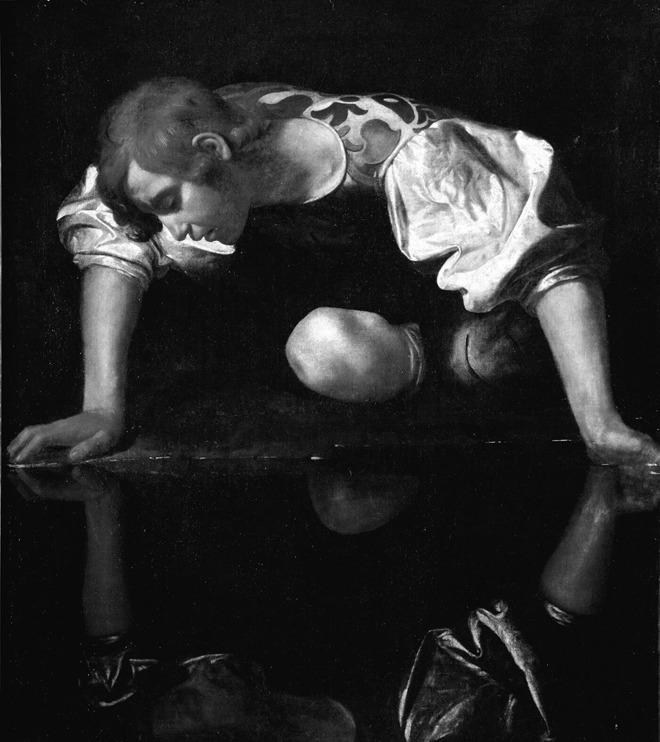












Comentários