1973-1993-2013: As dobras do tempo
Na terceira parte desta série, abordamos a forma como o contexto internacional influenciou as mudanças internas e obrigou o país a redefinir o seu posicionamento europeu e mundial.
Na terceira parte da série 1973-1993-2013, abordamos a forma como o contexto internacional precipitou mudanças, como aconteceu com a revolução de Abril e o fim do regime, que abriram caminho à integração europeia. Duas décadas mais tarde, a queda do Muro de Berlim e a mudança de rumo da União Europeia dificultavam o percurso europeu de Portugal. Na terceira dobra do tempo, 2013, os responsáveis políticos portugueses e europeus precisam de reinventar a aliança entre a democracia liberal, a inovação económica e a integração regional.
Nos últimos quarenta anos, Portugal mudou muito e muito rapidamente. O regime autoritário, uma relíquia da vaga fascista dos anos vinte, deu lugar a uma democracia pluralista de tipo ocidental, o último império ultramarino deixou o mais antigo dos Estados europeus voltar ao seu ponto de partida, a velha comunidade rural, conservadora e fechada transformou-se numa sociedade urbana, um pouco mais liberal e aberta. No essencial, essa tripla mudança resultou das dinâmicas políticas, económicas e sociais internas. Dito isto, é importante reconhecer a relevância dos factores externos que condicionaram as crises nacionais em momentos críticos e inserir a evolução de Portugal no seu contexto internacional, entre outras para evitar o regresso dos velhos demónios do isolacionismo.
Fim de regime
O dia 13 de Outubro de 1973 marcou o fim do marcelismo. Nesse sábado, os Estados Unidos deram início a uma extraordinária ponte aérea, que assegurou a vitória de Israel contra o Egipto e a Síria na Guerra do Yom Kippur, e cuja estação de trânsito era a base norte-americana das Lajes, na ilha Terceira.
Num primeiro momento, as autoridades portuguesas, seguindo o exemplo da Espanha e dos aliados europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), quiseram negar aos Estados Unidos o direito de passagem dos aviões norte-americanos. Porém, a derrota dos aliados da União Soviética no Médio Oriente era crucial para os Estados Unidos e, na ausência de alternativas, o Presidente Richard Nixon escreveu ao Presidente do Conselho português para lhe dizer que uma recusa de Lisboa teria consequências. Marcello Caetano respondeu que o seu Governo não queria forçar o principal aliado a tomar medidas extremas e consentia que os transportes aéreos norte-americanos se pudessem reabastecer na base açoriana, a caminho de Lod. A versão mais elegante desta brevíssima crise bilateral reconhece que os aviões já tinham levantado voo em direcção às Lajes quando a mensagem de Lisboa foi entregue no Departamento de Estado em Washington.
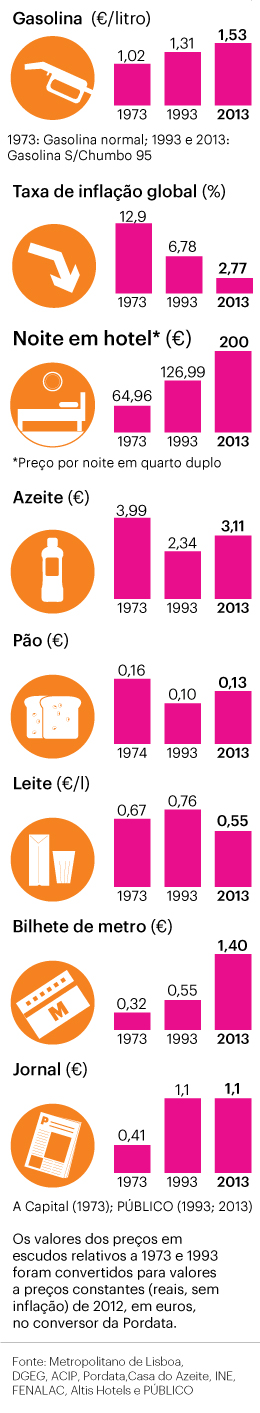 O episódio confirmou, sem margem para dúvidas, as sérias vulnerabilidades externas resultantes de um crescente isolamento, no fim de um ano horrível para Marcello Caetano. Em Julho, a visita oficial do Presidente do Conselho a Londres, para comemorar a aliança histórica entre Portugal e a Inglaterra, tinha sido dominada pelas manifestações, onde se destacou Mário Soares, secretário-geral do novíssimo Partido Socialista, e pelos relatos na imprensa sobre o massacre de Wiryamu. Em Setembro, a declaração de independência da Guiné-Bissau, proclamada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em Madina do Boé, mereceu o reconhecimento oficial de mais de 40 Estados, incluindo a União Soviética e a China, bem como uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada por 93 votos a favor, 30 abstenções e sete contra, que se congratulava com o “acesso à independência da República da Guiné-Bissau” e condenava Portugal por agressão a um “Estado independente”.
O episódio confirmou, sem margem para dúvidas, as sérias vulnerabilidades externas resultantes de um crescente isolamento, no fim de um ano horrível para Marcello Caetano. Em Julho, a visita oficial do Presidente do Conselho a Londres, para comemorar a aliança histórica entre Portugal e a Inglaterra, tinha sido dominada pelas manifestações, onde se destacou Mário Soares, secretário-geral do novíssimo Partido Socialista, e pelos relatos na imprensa sobre o massacre de Wiryamu. Em Setembro, a declaração de independência da Guiné-Bissau, proclamada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em Madina do Boé, mereceu o reconhecimento oficial de mais de 40 Estados, incluindo a União Soviética e a China, bem como uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada por 93 votos a favor, 30 abstenções e sete contra, que se congratulava com o “acesso à independência da República da Guiné-Bissau” e condenava Portugal por agressão a um “Estado independente”.
As contrapartidas apresentadas ao secretário de Estado Henry Kissinger pelo uso das Lajes eram um catálogo eloquente das dificuldades do regime. O Governo português queria que os Estados Unidos o defendesse no Conselho de Segurança em face da declaração unilateral do PAIGC; que a Administração norte-americana impedisse o Congresso de aprovar a Emenda Tunney-Young, cujo objectivo era proibir a venda de armas a Portugal; e que os Estados Unidos fornecessem ao Exército mísseis terra-ar contra a ameaça de bombardeamentos aéreos do PAIGC na Guiné-Bissau. Os esforços da diplomacia apenas conseguiram que o nome de Portugal fosse retirado do texto da Emenda Tunney-Young, a par de uma vaga promessa sobre a hipótese de Israel poder vender a Portugal as armas que os Estados Unidos não queriam partilhar com um membro da NATO.
Entretanto, como era previsível, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu boicotar Portugal (e a Holanda) e prejudicou o seu acesso directo às principais fontes de abastecimento de petróleo da economia nacional. Não obstante os esforços para limitar os efeitos da retaliação árabe com o reforço (discreto) dos fornecimentos da Gulf Oil em Cabinda, a crise energética precipitou uma grave crise económica e social.
A cedência portuguesa perante as pressões norte-americanas para garantir o acesso às Lajes na Guerra do Yom Kippur foi uma causa imediata do golpe militar, enquanto os impasses revelados pela política externa de Marcello Caetano neste período acentuaram as divisões entre as elites do regime e aceleraram a sua queda. O regime autoritário já tinha deixado de existir quando, seis meses depois, o Movimento das Forças Armadas tirou as consequências desse facto.
Fim da história
Vinte anos depois, no dia 1 de Novembro de 1993, entrou em vigor o Tratado da União Europeia, assinado durante a primeira Presidência portuguesa do Conselho de Ministros da Comunidade Europeia.
No intervalo, tudo, ou quase tudo, tinha mudado em Portugal. O golpe militar de 25 de Abril de 1974 deu origem a uma democracia pluralista depois de terminada a descolonização africana. Contra a profecia de Franco Nogueira, que anunciava o fim da independência nacional e a anexação ibérica quando se perdesse a “reserva de soberania” do império ultramarino, as Comunidades Europeias receberam a democracia portuguesa no mesmo dia em que a democracia espanhola. Cinco anos depois, em finais de 1991, o regime comunista russo suicidou-se e a União Soviética deixou de existir. Helmut Kohl, François Mitterrand e Jacques Delors tomaram o lugar dos vencedores da Guerra Fria e fundaram a União Europeia.
Portugal não estava preparado para essa revolução diplomática. Depois da revolução, os responsáveis políticos tinham decidido a favor da integração europeia, embora estivessem divididos sobre a sua finalidade. Os socialistas procuravam nos “Estados Unidos da Europa” o lugar para uma democracia herdeira dos valores da independência nacional e anteciparam o pedido de adesão para chegar a Paris, Bona e Londres antes da Espanha poder consolidar a sua transição. Os democratas-cristãos completaram as negociações para a entrada de Portugal na Comunidade Europeia preparando paralelamente as condições para uma convergência peninsular. Todavia, esses termos de referência, sóbrios e realistas, perderam a sua validade perante as sucessivas surpresas com a unificação da Alemanha, o fim da União Soviética e a sobrevivência da integração europeia.
Na euforia do “fim da história” tudo era possível e as velhas regras da política do poder pertenciam ao passado. O ano de 1993, entre o início do mercado único europeu, a reforma do orçamento comunitário e a ratificação do Tratado de Maastricht, foi o primeiro da “nova era europeia”.
Portugal já não precisava de uma estratégia: o mercado único determinava o modelo da sua modernização económica e os fundos estruturais, duplicados com a aprovação do “Pacote Delors II”, asseguravam a convergência económica e social das periferias pobres com o centro rico da União Europeia. Mas ainda precisava de uma “narrativa” para legitimar o "consenso europeu" que unia o “bloco central”. Essa “narrativa” começava por explicar que Portugal e a Espanha eram iguais na União Europeia e, se tal fosse possível, seriam ainda mais iguais quando a “ordem federadora” reconhecesse a vocação atlântica de Portugal e o imobilismo continental da Espanha. Depois, demonstrava que a dimensão atlântica e a prioridade europeia eram uma e a mesma coisa: os clássicos que defendiam uma visão “insular” ou “para-arquipelágica” e não queriam que Portugal fosse o “cais peninsular” da Europa teriam tido razão no seu tempo, mas as suas teses eram anacrónicas nos novos tempos. Finalmente, confirmava que, a seguir à independência nacional e aos descobrimentos marítimos, a “nova história de Portugal” tinha um quadro diferente – o europeu – e uma motivação nova – o desenvolvimento: o atraso secular ia terminar graças às reformas do mercado único e aos fundos europeus.
Porém, mesmo nesse ano de maravilhas, nem tudo se passou como previsto. Desde logo, as guerras de secessão da Jugoslávia revelavam uma realidade alternativa, marcada pela barbaridade dos massacres na Bósnia-Herzegovina, onde a "intervenção humanitária" passou a ser um disfarce da impotência da União Europeia e a demonstração da persistência das rivalidades históricas entre a Alemanha, a França e o Reino Unido. Por outro lado, a única forma de conter a repetição do cenário jugoslavo na Europa Central e Oriental era a integração das novas democracias post-comunistas, que não só transformava a natureza íntima da União Europeia, como transferia o seu centro de gravidade de Paris e Bruxelas para Berlim e Viena. Por último, as vulnerabilidades da arquitectura institucional da União Europeia estavam a tornar-se aparentes, mesmo antes dos alargamentos duplicarem o número dos seus membros: No modo profético, tão próprio da direita romântica, Francisco Lucas Pires antecipava o risco do mercado único, a união económica e monetária e a união política virem a ter o destino das “Capelas Imperfeitas”.
O modelo da integração europeia era, afinal, menos exemplar do que a narrativa corrente queria demonstrar. A expansão oriental das fronteiras da União Europeia (e da NATO) deixava Portugal isolado numa Península ibérica periférica e a multiplicação dos membros da nova “Casa Comum” europeia só podia acentuar o estatuto de menoridade dos “pequenos e médios Estados”. Para enfrentar os perigos da tripla marginalização – ibérica, peninsular e continental – os responsáveis políticos escolheram uma estratégia de tripla integração, em que procuraram intensificar, paralelamente, tanto a integração europeia, como a integração ibérica, ao mesmo tempo que tentavam, por todos os meios, garantir a presença de Portugal no “pelotão da frente” da moeda única.
Fim das ilusões
Vinte anos depois, no dia 19 de Dezembro de 2013, o Conselho Europeu reuniu-se pela primeira vez depois das eleições alemãs, na expectativa de que a nova coligação entre a CDU e o SPD estivesse preparada para começar de novo e ultrapassar a “crise existencial” da União Europeia.
Desde 2003, entre a crise transatlântica provocada pela invasão anglo-americana do Iraque e a débâcle das “dívidas soberanas”, passando pela rejeição do Tratado Constitucional pelos eleitores franceses e holandeses, a política europeia viveu sob o signo da crise. Depois da intervenção tardia na Grécia, a chanceler Angela Merkel e o Presidente Nicolas Sarkozy reconheceram que o fim do euro podia pôr em causa a sobrevivência da União Europeia. As intervenções posteriores na Irlanda e em Portugal, bem como em Itália e na Espanha, não só confirmaram as percepções externas sobre o declínio da Europa Ocidental, como provocaram a ressurgência das velhas divisões entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, os ricos e os pobres, ou os protestantes e os católicos, que puseram à prova a coesão interna da União Europeia. A visão da Europa como uma “superpotência”, a restauração da competitividade económica externa e o princípio da convergência interna foram prejudicados pela crise da moeda única, cujas consequências excederam as previsões mais pessimistas dos que preveniram a tempo acerca dos perigos da “grande ilusão” europeia.
Todos reconhecem a urgência de completar as “Capelas Imperfeitas”. Os “quatro presidentes” europeus definiram como programa comum a edificação das “quatro uniões” – a união bancária, a união orçamental, a união fiscal e a união política. O Presidente do Conselho Europeu quis discutir a defesa europeia, que reclama, com urgência, uma capacidade efectiva de “gestão de crises” para garantir a estabilidade no “estrangeiro próximo” da União Europeia, bem como a sua intervenção militar nos conflitos para lá dos limites regionais e a contribuição necessária para a segurança global, ao lado dos Estados Unidos.
Porém, o Conselho Europeu acabou por aceitar um compromisso demasiado imperfeito sobre o “mecanismo de resolução” da união bancária, confirmou as divisões profundas entre a França, a Alemanha e o Reino Unido acerca da defesa europeia, limitou-se a apoiar verbalmente a intervenção corajosa da França na República Centro-Africana e, se fosse possível a União Europeia reconhecer os seus erros, podia ter constatado o fracasso ocidental na Ucrânia. A guerra civil da Siria foi tratada como um problema humanitário e a questão iraniana não constava da ordem de trabalhos oficial.
Os anos da crise mudaram profundamente Portugal e a União Europeia. Desde 2012, Portugal entrou num ciclo de dependência externa que prejudicou a sua reputação internacional, provocou uma depressão económica e o desemprego em massa e abriu caminho para uma crise de legitimidade da democracia portuguesa.
A resposta das elites revelou hesitações e divisões sérias. A direita nacionalista quis reconhecer a validade da profecia de Franco Nogueira e proclamou que Portugal tinha passado a ser um “protectorado” da União Europeia, enquanto a esquerda radical defendia uma coligação europeia dos devedores. A oposição socialista inclinou-se para a defesa de uma “União Latina”, onde a relevância de Portugal não era evidente. O Governo escolheu os riscos da aliança alemã, talvez sem antecipar as dificuldades na relação indispensável com os Estados Unidos, a propósito, mais uma vez, das instalações militares nas Lajes.
A perda de ilusões sobre o “fim da história” obriga os responsáveis políticos nacionais a reconstituir um consenso sobre a posição internacional de Portugal, assente em postulados mais realistas. Desde logo, é importante reconhecer que não há nenhuma alternativa válida à dupla filiação de Portugal na União Europeia e na Aliança Atlântica. Por outro lado, é preciso definir um quadro de alianças sólidas tanto na União Europeia, como na NATO, que evite dependências excessivas e unívocas, sejam dos credores, dos vizinhos ou dos protectores. Por último, é necessário restaurar a confiança dos Portugueses em si próprios e no seu País.
A crise não acabou e a Europa chega ao fim de 2013 em mau estado. As divisões políticas internas persistem intactas, a recuperação económica parece demasiado frágil e os extremismos populistas antieuropeus crescem por toda a parte. Para inverter a dinâmica de fragmentação regional, os responsáveis políticos portugueses e europeus precisam de reinventar a aliança entre a democracia liberal, a inovação económica e a integração regional.
A decadência do Ocidente é um debate permanente na Europa há quase cem anos, mas a resiliência europeia serve para demonstrar que o seu declínio não é inevitável.










