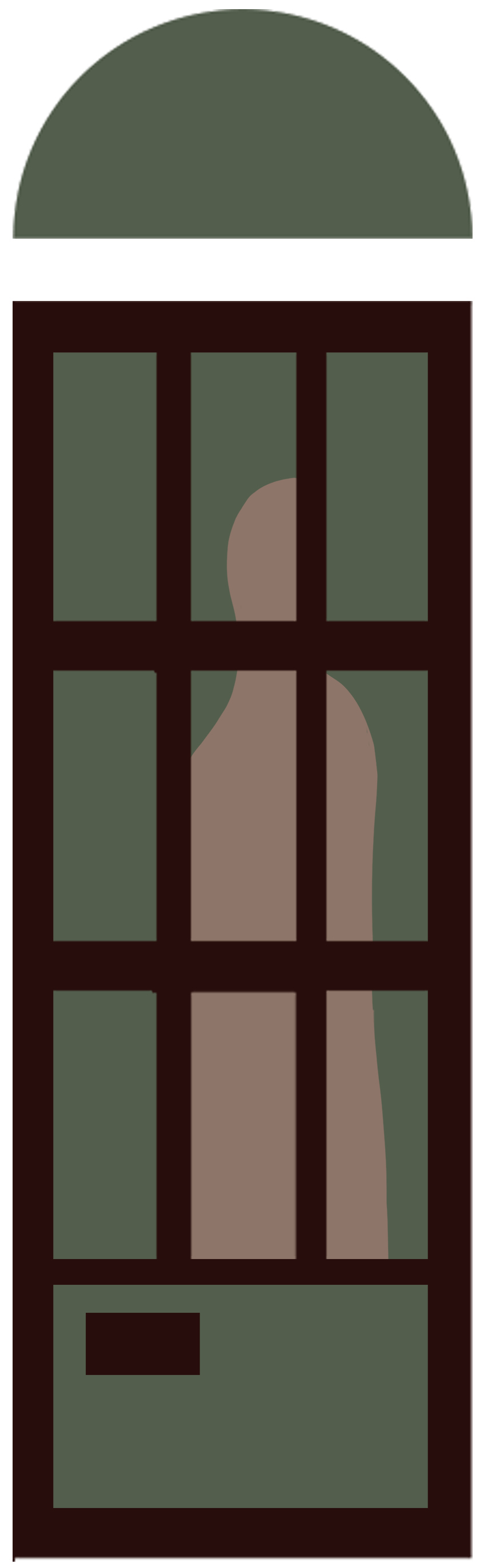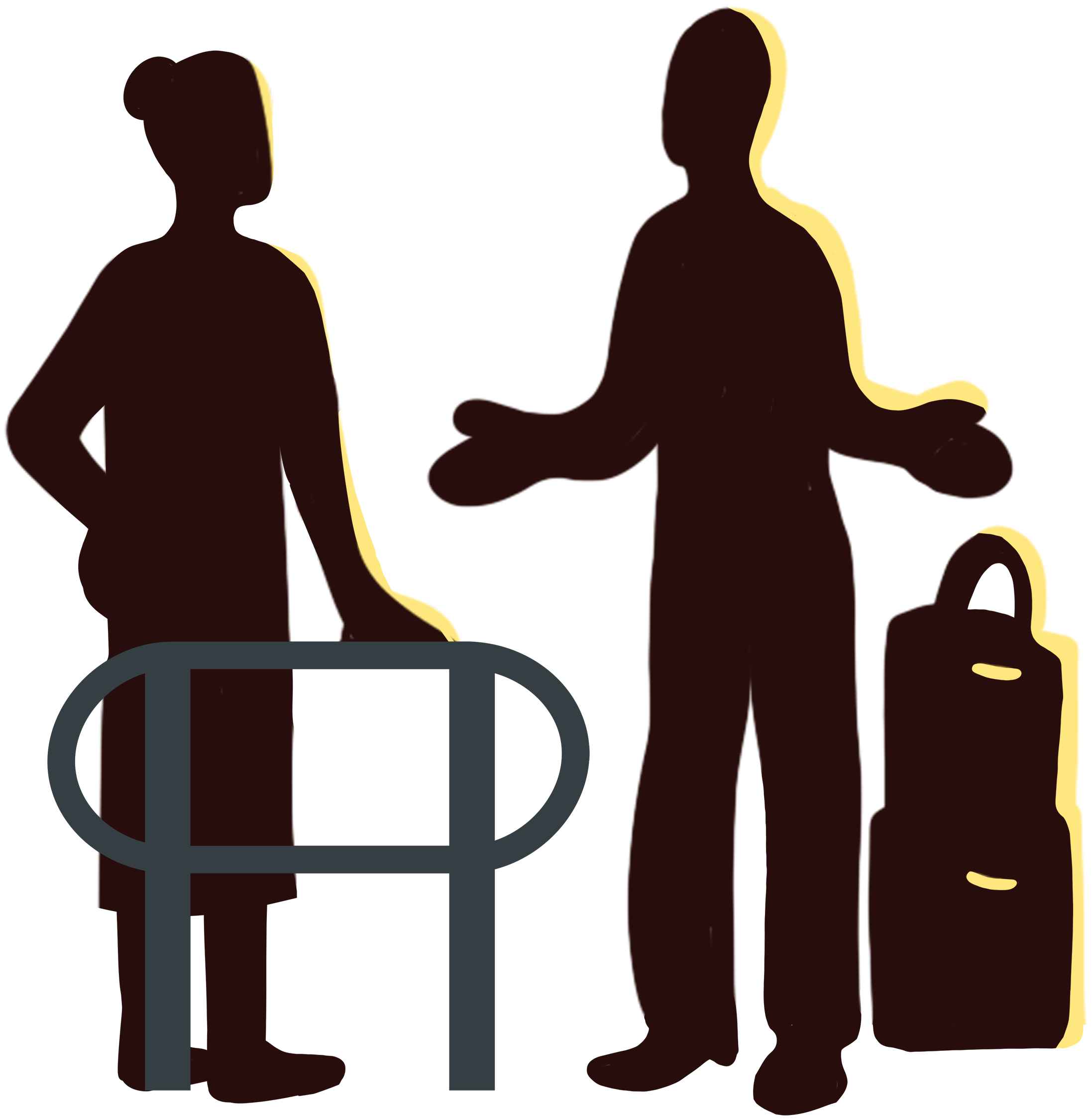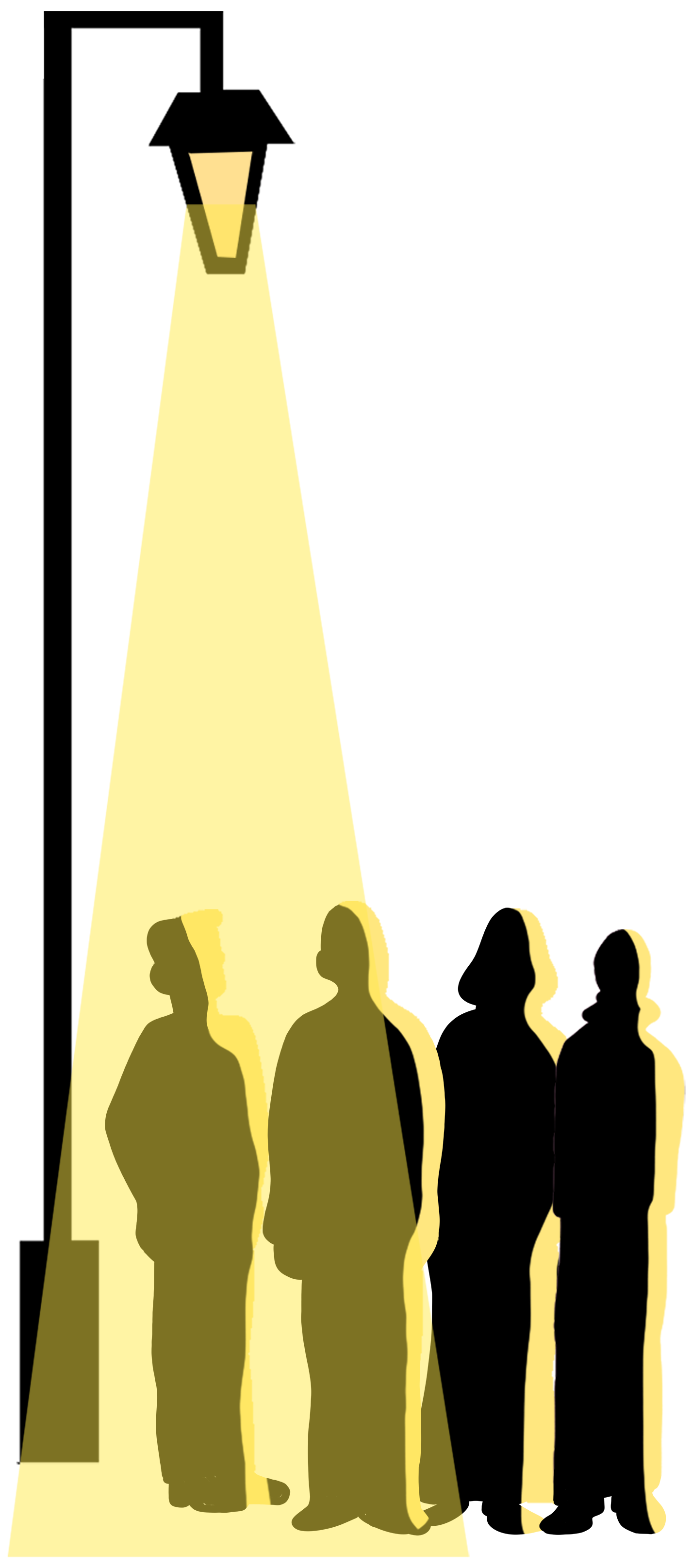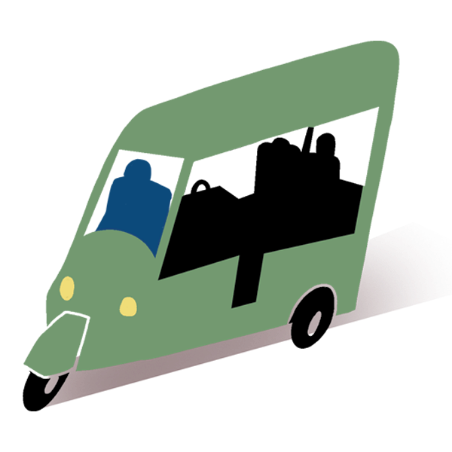Os níveis de rendimento importam – e muito. Os últimos dados publicados pelo
Gabinete de Estudos e Planeamento do
Ministério do Trabalho e da Segurança Social, referentes ao ano de 2018, indicam que
o ganho médio de cada trabalhador
no território continental era de 1170 euros; e que o ganho mediano era de 854 euros,
ou seja, no território continental,
metade dos trabalhadores por conta de outrem tinha como valor máximo de rendimento
854€ mensais, dos quais é necessário
excluir as contribuições para a Segurança Social e IRS ou outros impostos. É fácil
perceber a dificuldade em conciliar
este nível de rendimentos com a subida das rendas registadas no mercado de
arrendamento formal.

A análise dos dados recolhidos pela Rede Europeia Antipobreza (EAPN), a pedido do PÚBLICO,
mostra que um adulto a viver
sozinho não estará em situação de pobreza, caso receba o salário mínimo ou um
rendimento próximo do ganho mediano
nacional. Contudo, terá dificuldades em fazer face às despesas mensais, caso o custo
com a habitação assuma proporções
elevadas, como a dos novos contratos de arrendamento celebrados, por exemplo, em
Lisboa. A situação torna-se mais
precária quando (ou se) passar por situações de desemprego e instabilidade no
mercado de trabalho.
A procura de alojamento em outros concelhos com rendas mais acessíveis pode ser uma
decisão economicamente racional, mas
inviável para algumas famílias. Como sublinha a EAPN, as mudanças de residência têm
implicações não só na escola que os
filhos frequentam, mas também nas redes de apoio existentes, mais importantes quanto
mais precários forem os vínculos
laborais — quando estão em causa horários de trabalho não conciliáveis com a
localização e horário de funcionamento das
escolas, creches e ATL.
Afinal de contas, para quem é a cidade?
Para perceber esta construção de um território progressivamente estratificado em
função dos rendimentos, pode ser útil
partir para outro exercício. Voltemos a olhar para os valores praticados nos novos
contratos de arrendamento de 2017 e
imaginemos que quem os assinou respeitou as recomendações internacionais, não
investindo mais de 35% do seu ordenado na
renda da casa. Os rendimentos necessários para alugar um T1 em Lisboa
correspondiam, tendencialmente, aos tipificados pelo INE para
“Especialistas das actividades
intelectuais e científicas”, com um
salário de 2100 euros.
Qual seria a margem negocial dos “Trabalhadores não qualificados”, a receber cerca
de 60% menos? Neste caso, poderiam
ter a sorte de encontrar uma casa abaixo do valor de mercado, mas possivelmente com
impacto nas condições de
habitabilidade e salubridade. Poderiam alugar ou partilhar um quarto com pessoas em
circunstância idêntica, perdendo
privacidade e autonomia. Poderiam viver em casa de um amigo ou familiar, em troca de
um valor simbólico. Mas os
aumentos, a cada semestre, dos valores dos contratos assinados indiciam uma possível
saída para municípios limítrofes,
onde o valor das rendas é, à partida, mais compatível com os seus rendimentos.
A possibilidade de viver ou não na cidade, próximo do local de trabalho, não é só
uma questão de conforto ou comodidade.
Dependendo das condições e circunstâncias em que se vive, também pode representar
uma questão de saúde pública, como
tornou evidente a pandemia de covid-19. Se o papel de quem esteve na linha da frente
foi elogiado durante o primeiro
confinamento, as suas condições de habitabilidade ficaram expostas quando, em Junho
de 2020, se declarou o estado de
calamidade em 19 freguesias contíguas da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Nessa
altura, um destaque do INE referia
que “os residentes no território em estado de calamidade utilizam mais o transporte
público” (mais do dobro do observado
no restante território da AML) e que “o território em estado de calamidade apresenta
um mercado de habitação menos
valorizado”.
Um estudo recente realizado durante a pandemia (Agosto-Novembro de 2020) no
Centro de Estudos sobre a Mudança
Socioeconómica e o Território do ISCTE
( DINAMIA-ISCTE)), dedicado às mulheres que habitam em
bairros degradados da AML, ajuda-nos a ilustrar as causas e consequências
deste
processo de exclusão residencial. O projecto
“Como
Ficar em Casa?”, coordenado pela investigadora Joana Pestana Lages,
conta-nos o caso de mulheres como M., que um dia
comprou uma casa através de um empréstimo bancário; ou de A. e C., que
assinaram contratos de arrendamento, e a quem a
perda do emprego e o fim dos subsídios de desemprego colocaram numa situação
de incumprimento e sem alternativa no
mercado formal de habitação.
O mercado formal geralmente exige fiador, dois meses de caução e a existência de
contrato de trabalho. Estas condições
são difíceis ou impossíveis de assegurar para uma parte das pessoas, empurradas para
situações de precariedade extrema,
como as que vivem em tendas ou abrigos improvisados, e para o mercado de
arrendamento informal — à partida mais
flexível, mas sem rede de protecção. As medidas de excepção decretadas durante a
pandemia, nomeadamente os empréstimos
sem juros concedidos pelo IHRU a quem tivesse dificuldade em pagar a renda,
abrangeram muito poucos agregados — 748
famílias, no final de Dezembro. A secretária de Estado da Habitação, Marina
Gonçalves, admitiu que a informalidade dos
contratos afastou muita gente destes apoios.
Muitas vezes mães sozinhas, com filhos menores a cargo, parte das mulheres identificadas no projecto Como Ficar em
Casa?, com trabalhos na sua maioria precários, acabam por ficar limitadas ao
mercado de arrendamento informal, aos
bairros ditos “de barracas” ou, em situações limite, à ocupação de uma casa do
parque habitacional público ou privado.
Neste estudo realizado a partir de uma perspectiva de género, ouviram-se os
argumentos de quem acaba por ocupar uma
habitação. No caso de M., sozinha e com dois filhos, num quadro de problemas de
saúde (física e mental), e após mais de
dez anos desde a primeira candidatura de apoio à habitação dirigida à Câmara
Municipal de Lisboa, esta foi a única
solução encontrada. Por um lado, a ocupação de fogos de habitação social expõe
algumas fragilidades da resposta pública
face à precariedade e vulnerabilidade habitacional, nomeadamente a existência de
fogos municipais desocupados ao longo
de anos. Por outro, cria uma disrupção no processo regulamentar e levanta questões
de justiça e credibilização dos
processos de atribuição de habitação a pessoas e famílias elegíveis para o efeito,
frisa o estudo.
E como é viver fora das grandes cidades?
E, se sairmos das grandes cidades, o que encontramos no interior do país? O trabalho
de reconstrução na zona centro,
após os grandes incêndios de 2017 permite tirar algumas conclusões. Foi o que fez a
cooperativa Trabalhar com os 99%,
contratada pela Fundação Calouste Gulbenkian para fazer assessoria técnica ao Fundo Revita (que
financiou os trabalhos
de reconstrução). Pedimos a Tiago Mota Saraiva, fundador desta cooperativa, que
enumerasse três prioridades de acção,
face ao que encontrou no terreno. A primeira, o direito à arquitectura, que para
muitos é sentida ainda como um luxo.
“Todas as pessoas são sensíveis à qualidade do que é projectado no que vai muito
além de matérias de gosto. Para que se
cumpra este direito, também serão necessários técnicos que assumam a
responsabilidade civil perante o projectado e a
fiscalização do construído, garantindo a implementação de boas práticas e o
cumprimento da legislação, que tantos
ignoram por desconhecimento ou irresponsabilidade”, argumenta Mota Saraiva.
A exigência na qualificação da construção passa, assim, a ser a segunda prioridade.
Entre 28 de Dezembro e 31 de Janeiro
de 2021 houve um pico de mortalidade em Portugal. Foram 20 mil
mortos, dos quais 5875 decorrentes da covid-19. No
entanto, de acordo com o Instituto Ricardo Jorge, uma em cada quatro mortes
explica-se pelo frio. Não é difícil imaginar
que muitas destas mortes decorram de deficientes condições de habitação. “Dinheiro e
tempo investido em bons projectos e
em boa construção significa poupança a curto, médio e longo prazo”, defende o
arquitecto, que dedica a sua vida
profissional a estas questões, desde 2005. Chegamos, então, à terceira prioridade,
que é “a participação e poder à
cidadania”.
“Fora dos grandes centros urbanos, a maioria das pessoas vive com muitas
barreiras de invisibilidade e de acesso à
informação. Ouvir as pessoas e fazê-las ser actores da solução significa
criação de postos de trabalho, novas respostas
e mobilização. Construir processos de co-criação, cidadania e bottom-up
[abordagem de baixo para cima] é o primeiro
passo para contrariar as invisibilidades, promover a segurança, a
solidariedade e a paz entre comunidades”, argumenta o
arquitecto.
A mobilização pelo direito à habitação
A mobilização pelo direito à habitação vem assumindo uma maior importância. É
indesmentível que há problemas um pouco
por todo o país. Afinal, nunca se tinha cumprido aquilo que ficou na Constituição
logo em 1976 — que a habitação é um
direito universal. A primeira proposta de redacção da Lei de Bases da Habitação só havia de dar entrada no
Parlamento em
Abril de 2018.
Criar a Lei de Bases da Habitação foi inclusive uma das primeiras recomendações
deixadas ao Governo português pela
relatora especial das Nações Unidas. Evitar demolições e despejos, garantir a todos
os moradores das “ilhas” uma
habitação adequada e aumentar o parque de habitação social, subsidiada ou de
arrendamento acessível, de forma a diminuir
as listas de espera que existiam em vários municípios, foram outras recomendações importantes deixadas por Leilani
Farha. No fundo, as recomendações das Nações Unidas insistiam na necessidade
de aumentar os recursos disponíveis para o
sector habitacional.
Para além destes actores técnicos e políticos a chamar a atenção para o assunto, a
sociedade civil também se mobilizou
de forma mais ou menos organizada e segundo diferentes sensibilidades. À Associação Habita, que desde 2012
luta pelo
direito à habitação, juntaram-se outros colectivos, como o Morar em Lisboa, criado em
2017 no âmbito de uma carta aberta
com vários subscritores — mais de 5000 —, ou como a Stop Despejos,
mais voltada para a acção directa.
Uma das faces mais visíveis do protesto foi a chamada “Caravana
pelo Direito à Habitação”, que percorreu vários
municípios, de norte a sul — Amadora, Beja, Coimbra, Lisboa, Loures, Porto, São
Miguel, Seixal — durante Setembro de
2017. Integrada por vários colectivos e associações locais, com públicos-alvo e
campos de actuação diferentes, esta
iniciativa pretendeu sobretudo contribuir para uma nova agenda política do Governo e
autarquias.
“Há uma urgência em pensar colectivamente e de forma participada um direito
essencial que pouca representação política
tem tido”, escrevem no documento final que produziram os membros desta iniciativa.
Integraram esta caravana a assembleia
de moradores dos bairros 6 de Maio, Torre, Jamaika, Quinta da Fonte, mas também
associações como a Habita, o Gestual, a
Chão – Oficina de Etnografia Urbana ou o SOS Racismo, activistas e investigadores.
“O levantamento dos problemas nesses
territórios foi feito ouvindo a voz das populações residentes que têm sido
esquecidas, ignoradas, excluídas durante as
últimas décadas”, sustentam.
Os resultados da caravana no que respeita à discussão das políticas públicas
de habitação destacam dois temas
principais. Primeiro, “é evidente que as políticas de habitação foram
historicamente, e continuam a ser, gravemente
insuficientes, qualitativa e quantitativamente, para garantir o direito à
habitação”. Segundo, “as várias políticas que
se foram seguindo nunca foram estruturadas através de processos inclusivos
com a participação das populações abrangidas.
Até as políticas que tiveram como objectivo melhorar a situação das
populações em condições habitacionais mais precárias
[como o Programa Especial de Realojamento] foram sistematicamente
estruturadas com metodologias tecnocráticas”.
A mensagem principal que a caravana lançou aos decisores políticos, e à sociedade em
geral, “é que não é possível
promover políticas de habitação sem ter em conta os desejos, aspirações,
competências e saberes de todas as populações e
todos os grupos sociais”.
O problema é como dar a palavra a todos estes anseios. Há situações de despejos,
casos de carência habitacional,
exemplos de indignidade que chegam às televisões e às páginas de jornais, muito por
força da acção destes movimentos.
Haverá, todavia, um muito maior número de casos e situações de que ninguém fala e de
que poucos terão conhecimento.
Metodologias tecnocráticas à parte, o levantamento das necessidades habitacionais
feito pelo IHRU ajuda a ter uma
dimensão do problema. Percebeu-se, com este levantamento, que 74% do total das mais
de 26 mil famílias a precisarem de
ser realojadas se localizava nas áreas metropolitanas: na de Lisboa era necessário
realojar 13.828 agregados; na do
Porto 5222.
Mas este levantamento não dizia tudo. Aliás, não dizia nada sobre todas as outras
carências e necessidades habitacionais
que os municípios foram convocados a identificar nas respectivas Estratégias Locais
de Habitação, documento prospectivo
necessário para se poderem candidatar a financiamento público. Aos três critérios
cumulativos considerados no
levantamento do IHRU (serem construções de grande precariedade habitacional, que
precisassem de ser demolidas e que
fossem residência permanente dos agregados) somaram-se outros dois: as questões de
sobrelotação e também as situações de
inadequação habitacional e carência financeira. Apenas 11% dos municípios já
submeteram as respectivas Estratégias
Locais de Habitação, mas só estes cobrem já 98% das necessidades habitacionais
identificadas pelo IHRU em 2018,
revelando uma realidade para lá dos números.